
Sou Tom Veras, professor de música há mais de 30 anos e dou aulas de guitarra, violão, teclado e baixo, e ao longo dessa trajetória ficou claro para mim que cada pessoa se relaciona com a música de um jeito único, de acordo com sua personalidade, momento de vida e necessidades emocionais, cognitivas e culturais. Ainda assim, observando centenas de alunos ao longo do tempo, é possível identificar alguns perfis recorrentes, sem rótulos rígidos e sem fronteiras fixas: quem busca a música como hobby e válvula de escape; quem quer se tornar profissional e viver do palco; quem sonha em tocar em banda; o artista/compositor que cria pela intuição e quer ampliar ferramentas; os pais que colocam crianças buscando formação cultural complementar; os idosos, que encontram na música prazer, estímulo e resgate; e aqueles que procuram a música como atividade terapêutica, em momentos de estresse, burnout ou dificuldade de concentração. Esses perfis não são caixas fechadas — uma mesma pessoa pode transitar entre vários ao longo da vida — e justamente por isso a música se mostra uma atividade profundamente humana, capaz de atender necessidades muito diferentes em pessoas diferentes.
Ao longo desse tempo convivendo com centenas de alunos passei a perceber algo muito claro: cada pessoa se relaciona com a música de um jeito único. Essa relação não é padronizada, não é técnica no sentido frio da palavra — ela nasce da personalidade, da história de vida, do momento emocional e até da forma como cada um se expressa no mundo. Assim como ninguém escolhe roupa ou comida do mesmo jeito, ninguém vive a música da mesma forma.
Dar aulas por tantos anos permite observar padrões sem perder de vista a individualidade. A música é arte, é linguagem humana, é emoção, e por isso nunca funciona no esquema “preto no branco”. Ainda assim, quando se olha para essa experiência em perspectiva — anos de sala de aula, diferentes idades, objetivos, frustrações, desejos e expectativas — começam a surgir alguns perfis recorrentes. Não como rótulos, mas como pontos de referência.
Esses perfis não são caixas fechadas. Uma mesma pessoa pode se identificar com mais de um ao mesmo tempo, ou mudar completamente ao longo da vida. Isso é natural. A relação com a música muda conforme a fase, o contexto, as prioridades e até o estado emocional. O que compartilho aqui não é uma regra, mas um retrato construído a partir da prática: a música atende necessidades diferentes em pessoas diferentes, e compreender isso é fundamental tanto para quem ensina quanto para quem aprende.
Cada aluno como indivíduo — a didática que não trabalha com rótulos
Apesar de eu falar em perfis ao longo deste artigo, é importante deixar algo muito claro: eu não trato pessoas como perfis em sala de aula. Essas categorias existem apenas como uma forma de observar tendências ao longo do tempo, nunca como um molde pedagógico. Na prática, cada aluno é sempre um indivíduo único, com seu próprio ritmo, seu tempo disponível, sua forma de concentração, seu nível de percepção musical, suas facilidades e suas dificuldades. Nada é padronizado. Esse conceito de ensino em série, igual para todos, simplesmente não faz parte da minha didática.
Eu respeito profundamente o tempo de cada pessoa. Há quem tenha muito tempo para estudar e há quem tenha pouquíssimo; há quem concentre com facilidade e há quem precise de mais pausas; há quem aprenda rápido pela prática e há quem precise de mais reflexão. Tudo isso é levado em conta caso a caso. Não comparo alunos entre si, não imponho metas externas e não pressiono. Os desafios que aparecem em aula são, em grande parte, os desafios que o próprio aluno se propõe a vencer, e meu papel é ajudar a criar caminhos possíveis para isso.
O meu principal diferencial, no fundo, é simples: amor pelo ensino. Eu sou genuinamente apaixonado por ensinar música. Fico profundamente realizado ao ver um aluno se desenvolver, superar um bloqueio, tocar algo que antes parecia impossível. Essa alegria não vem da cobrança, vem da motivação. Eu acredito muito mais na construção do desejo de aprender do que no medo de errar.
Uso muito a ideia de “aprender a aprender”. Para mim, aprender a aprender começa pelo prazer. Mesmo quando o processo é difícil, repetitivo ou exige paciência, existe prazer em tentar, em persistir, em perceber pequenos avanços. Quando esse prazer existe, a dificuldade deixa de ser um obstáculo paralisante e passa a ser um desafio possível. E isso não vale só para a música. Esse modo de aprender acaba se expandindo para outras áreas da vida, porque a pessoa passa a confiar mais na própria capacidade de enfrentar o novo.
No fim das contas, a música é o meio — o que realmente importa é o processo humano que acontece ali. E é isso que eu busco preservar em cada aula, com cada aluno, independentemente de qualquer perfil.
Perfil 1 — Quem procura aulas de música por hobby (a “válvula de escape”)
 Ao longo de mais de 30 anos como professor de música, eu vi esse perfil aparecer de um jeito constante — e, curiosamente, ele não tem nada de “menos sério” por ser hobby. Pelo contrário: muita gente chega exatamente porque quer algo sério no único sentido que realmente importa aqui — seriedade com a própria vida. A pessoa trabalha demais, pensa demais, vive em função de metas, família, prazos, pressão… e descobre que está faltando um lugar seguro para respirar. Aí a música entra como uma espécie de refúgio organizado: um momento da semana em que a mente para de correr e o corpo volta a existir.
Ao longo de mais de 30 anos como professor de música, eu vi esse perfil aparecer de um jeito constante — e, curiosamente, ele não tem nada de “menos sério” por ser hobby. Pelo contrário: muita gente chega exatamente porque quer algo sério no único sentido que realmente importa aqui — seriedade com a própria vida. A pessoa trabalha demais, pensa demais, vive em função de metas, família, prazos, pressão… e descobre que está faltando um lugar seguro para respirar. Aí a música entra como uma espécie de refúgio organizado: um momento da semana em que a mente para de correr e o corpo volta a existir.
Esse aluno normalmente não está buscando “virar músico”. Ele quer tocar em casa, sozinho, às vezes com um filho, um parceiro, um amigo. Quer ter repertório, sentir evolução, mas sem a cobrança de desempenho. A música vira um espaço íntimo: um jeito de estar consigo mesmo sem precisar se explicar. E isso é algo que eu aprendi a respeitar muito cedo, porque a relação de cada pessoa com a música é tão particular quanto gosto por comida, roupa, cheiro, memória. Tem aluno que quer tocar para celebrar; tem aluno que quer tocar para aliviar; tem aluno que quer tocar para se reencontrar.
Quando esse hobby funciona, ele funciona por motivos muito concretos — não é só “romantização”. A literatura sobre artes e saúde descreve justamente esse papel da participação artística (incluindo tocar e ouvir música) na promoção de bem-estar e na prevenção/gestão de problemas ao longo da vida. Um relatório amplo da OMS/Europa, por exemplo, sintetiza milhares de estudos e discute como atividades artísticas podem se relacionar com saúde e qualidade de vida.
E, mesmo quando a pessoa não chega dizendo “quero algo terapêutico”, muitas vezes o efeito prático do hobby musical é esse: melhorar o humor, reduzir a sensação de estresse, aumentar a sensação de presença, regular emoções. Revisões recentes sobre música e bem-estar também apontam benefícios associados tanto a atividades passivas (ouvir) quanto ativas (fazer música), ainda que com o cuidado de reconhecer limitações metodológicas em parte dos estudos.
Eu gosto de pensar que, para esse aluno, a aula de música vira uma rotina de autocuidado com uma característica rara: ela é prazerosa e, ao mesmo tempo, exige um tipo de atenção que “puxa” a pessoa para o aqui e agora. Quando você está tentando trocar um acorde sem trastejar, sincronizar mão direita e esquerda, ou manter um ritmo simples sem acelerar, não dá para ficar com metade da cabeça em outra coisa. É uma meditação disfarçada de prática artística — só que com som, corpo, respiração e emoção envolvidos.
E existe também uma diferença importante, que eu faço questão de deixar clara: isso não é “musicoterapia”. Musicoterapia é uma prática clínica conduzida por profissional qualificado, com objetivos e métodos específicos. O que acontece nas aulas, nesses casos, é outra coisa: é a música como prática humana regular, que pode gerar efeitos positivos no bem-estar sem ser uma intervenção clínica. Essa distinção aparece bem discutida em revisões sobre música e redução de estresse, que diferenciam musicoterapia de outras intervenções musicais.
Na prática, esse perfil costuma buscar três coisas (mesmo sem nomear assim):
-
Prazer e identidade
A pessoa quer sentir “isso é meu”. Um repertório que combine com a vida dela. Um instrumento que combine com o jeito dela. Um som que ela reconheça como casa. -
Progresso sem punição
Ela quer melhorar — mas não quer uma escola de sofrimento. Quer uma evolução mensurável, só que com humanidade. -
Recuperação de estresse
Aqui entram coisas bem objetivas: descanso mental, foco, sensação de realização. E há pesquisas observacionais sugerindo associações entre engajamento musical no lazer e indicadores como recuperação de estressores e saúde mental, ainda que esse tema seja complexo e não se resuma a “música cura tudo”.
O que eu aprendi é que, para o aluno-hobby, a aula não é “só uma aula”. Ela vira um compromisso semanal com uma parte da pessoa que estava ficando abafada. E, quando isso acontece, a música deixa de ser um conteúdo e vira uma função na vida: um lugar de presença, expressão e alegria.
Perfil 2 — Quem busca a música como profissão (o músico de palco, o sideman)
 Ao longo da minha trajetória como professor de música, esse é um perfil que aparece com menos frequência do que o aluno por hobby, mas quando aparece, ele vem muito claro. A pessoa não chega dizendo apenas “quero tocar melhor”. Ela chega dizendo, direta ou indiretamente: “eu preciso estar pronto”. Pronto para ensaiar pouco e tocar muito. Pronto para subir no palco sem saber exatamente o que vai acontecer. Pronto para lidar com repertórios variados, artistas diferentes, situações imprevisíveis. É o perfil do músico profissional, muitas vezes do músico acompanhante — o chamado sideman.
Ao longo da minha trajetória como professor de música, esse é um perfil que aparece com menos frequência do que o aluno por hobby, mas quando aparece, ele vem muito claro. A pessoa não chega dizendo apenas “quero tocar melhor”. Ela chega dizendo, direta ou indiretamente: “eu preciso estar pronto”. Pronto para ensaiar pouco e tocar muito. Pronto para subir no palco sem saber exatamente o que vai acontecer. Pronto para lidar com repertórios variados, artistas diferentes, situações imprevisíveis. É o perfil do músico profissional, muitas vezes do músico acompanhante — o chamado sideman.
Esse aluno entende, desde cedo ou aprende rapidamente, que viver de música não é uma coisa única. Dá para viver de música ensinando, produzindo, compondo, gravando, criando conteúdo. Mas há um grupo específico que quer viver do palco, do trabalho como instrumentista em situações reais: shows, turnês, gravações, acompanhamentos. E esse caminho exige um tipo de preparo muito particular, tanto técnico quanto mental.
Tecnicamente, o nível de exigência é alto. Não se trata apenas de tocar “bem” no sentido comum. Trata-se de dominar o instrumento a ponto de ele não ser mais um obstáculo. Leitura, harmonia funcional, percepção rítmica, transposição, memória musical, escuta rápida, adaptação estilística — tudo isso passa a ser ferramenta de sobrevivência profissional. Um sideman precisa entender rapidamente o que está acontecendo musicalmente para reagir em tempo real. Isso envolve uma combinação de técnica motora refinada com processos cognitivos complexos, como atenção sustentada, memória de trabalho e tomada de decisão rápida.
Pesquisas em cognição musical mostram que músicos profissionais apresentam diferenças mensuráveis em habilidades como memória auditiva, coordenação motora fina e processamento temporal quando comparados a não músicos, o que ajuda a explicar por que esse tipo de treino é tão exigente e, ao mesmo tempo, tão específico. Estudos em neurociência da música discutem como o treinamento musical prolongado está associado a mudanças funcionais e estruturais no cérebro, especialmente em áreas ligadas à audição, movimento e integração sensório-motora.
Mas existe um ponto que eu considero ainda mais importante do que a técnica: a postura profissional. Esse perfil entende que tocar bem não é suficiente. Pontualidade, confiabilidade, capacidade de ouvir, respeito ao espaço do outro músico, leitura de contexto social e artístico — tudo isso faz parte do trabalho. O músico de palco precisa saber quando aparecer e quando desaparecer. Quando propor e quando servir. Isso é algo que não está escrito na partitura, mas que decide se alguém continua sendo chamado para trabalhar ou não.
Do ponto de vista psicológico, esse aluno também costuma lidar com níveis elevados de cobrança. A performance musical profissional envolve avaliação constante — explícita ou implícita — e isso pode gerar ansiedade, medo de erro, tensão física. Há estudos que investigam ansiedade de performance musical (music performance anxiety), mostrando que ela é comum mesmo em músicos experientes e pode impactar diretamente o rendimento se não for bem manejada.
Por isso, o trabalho pedagógico com esse perfil não é apenas ensinar notas, escalas ou repertório, mas ajudar o músico a construir estabilidade emocional em contexto de pressão.
Outro aspecto recorrente é a versatilidade. O sideman raramente escolhe só um gênero para a vida toda. Ele pode amar blues, jazz, rock ou MPB, mas o mercado exige trânsito. Saber acompanhar uma cantora pop hoje, tocar um show mais tradicional amanhã, gravar algo autoral depois. Isso exige escuta estilística, compreensão de linguagem e, principalmente, respeito às regras implícitas de cada gênero. Antropólogos e sociólogos da música frequentemente apontam que gêneros musicais não são apenas conjuntos de sons, mas sistemas culturais com códigos próprios de comportamento e expectativa. O músico profissional precisa ler esses códigos rapidamente.
Na prática, o que eu observo é que esse perfil costuma ter três motivações centrais:
-
Prontidão profissional
Não basta estudar; é preciso estar pronto para o imprevisto. -
Consistência sob pressão
Tocar bem mesmo cansado, nervoso ou com pouco ensaio. -
Inserção real no mercado
A música não como hobby, mas como trabalho, renda e identidade profissional.
Quando esse aluno entende isso, a aula deixa de ser um espaço apenas de aprendizado técnico e vira um laboratório de realidade profissional. Cada exercício, cada repertório, cada simulação tem um objetivo claro: preparar o músico para situações reais de palco. E, quando esse preparo acontece, a música deixa de ser apenas expressão pessoal e passa a ser também ofício, no sentido mais profundo da palavra.
Perfil 3 — Quem quer tocar em banda (o músico de grupo, do ensaio ao palco)
 Esse é um perfil muito comum ao longo da minha vida como professor de música, e ele ocupa um lugar interessante entre o hobby e a profissionalização. São pessoas que não necessariamente querem viver da música, mas querem viver a música com outras pessoas. Querem tocar em banda. Querem ensaiar, combinar repertório, discutir arranjos, subir num palco — mesmo que seja pequeno, mesmo que seja “só” um bar, uma festa, um evento entre amigos.
Esse é um perfil muito comum ao longo da minha vida como professor de música, e ele ocupa um lugar interessante entre o hobby e a profissionalização. São pessoas que não necessariamente querem viver da música, mas querem viver a música com outras pessoas. Querem tocar em banda. Querem ensaiar, combinar repertório, discutir arranjos, subir num palco — mesmo que seja pequeno, mesmo que seja “só” um bar, uma festa, um evento entre amigos.
Normalmente, esse aluno chega com uma motivação muito clara: a música como experiência coletiva. Ele pode até tocar sozinho em casa, mas o que realmente o move é o encontro. A troca. A sensação de pertencimento que só aparece quando você está tocando junto com outras pessoas, ouvindo, reagindo, errando e acertando em tempo real. A banda vira um espaço social, criativo e emocional ao mesmo tempo.
Em muitos casos, trata-se de bandas de fim de semana: grupos de amigos que querem tocar rock, pop, MPB, blues, música autoral ou algum gênero específico que faça sentido para aquela turma. Às vezes o objetivo é montar um repertório fechado de covers; às vezes é criar músicas próprias; muitas vezes é um pouco dos dois. O ponto central é que o aprendizado deixa de ser individual e passa a ser relacional.
Do ponto de vista musical, esse perfil traz desafios muito específicos. Tocar em banda não é simplesmente “tocar bem o seu instrumento”. É saber ocupar um espaço sonoro. Saber ouvir o outro. Entender função. Saber quando tocar menos, quando segurar, quando entrar. Coisas que não aparecem quando a pessoa estuda sozinha no quarto. Em banda, o erro fica audível, mas o acerto também ganha outra dimensão.
Estudos em psicologia da música e cognição social mostram que fazer música em grupo envolve processos complexos de coordenação interpessoal, empatia e sincronização. Pesquisas sobre joint music making indicam que tocar em conjunto ativa mecanismos ligados à cooperação, atenção compartilhada e regulação emocional coletiva. Não é à toa que bandas criam vínculos tão fortes — musicalmente e socialmente.
Outro aspecto que aparece muito nesse perfil é o aprendizado informal. Muitas bandas surgem antes mesmo de os integrantes terem uma base técnica sólida. E isso não é um problema — desde que seja bem conduzido. O risco é quando a banda vira um espaço de repetição de vícios: todo mundo toca alto demais, ninguém escuta ninguém, o andamento oscila, os arranjos nunca amadurecem. A função da aula, nesses casos, é ajudar o aluno a levar consciência para dentro da banda, sem matar o prazer do processo.
Existe também uma dimensão emocional importante. Para muita gente, a banda é um espaço de identidade: “eu sou o guitarrista da banda”, “eu canto naquela banda”. Isso dá pertencimento, autoestima, narrativa pessoal. Ao mesmo tempo, bandas lidam com conflitos: egos, frustrações, diferenças de expectativa. Sociologicamente, pequenos grupos musicais funcionam quase como microcomunidades, com regras explícitas e implícitas, papéis, hierarquias e afetos. Aprender a navegar isso faz parte da formação musical desse perfil.
Na prática, eu costumo perceber três grandes necessidades nesse tipo de aluno:
-
Consciência de conjunto
Aprender a tocar pensando no todo, não só no próprio instrumento. -
Ferramentas práticas para ensaio e palco
Ritmo sólido, estrutura de música, dinâmica, arranjos funcionais. -
Mediação entre prazer e organização
Manter a diversão da banda sem deixar tudo virar caos.
Quando esse equilíbrio acontece, a banda vira uma das experiências musicais mais ricas que alguém pode ter. Mesmo que nunca se torne profissão, ela ensina coisas fundamentais: escuta, colaboração, responsabilidade e expressão coletiva. E, para muitos alunos, é exatamente aí que a música deixa de ser apenas aprendizado e passa a ser vivência.
Perfil 4 — O artista / compositor (quem cria para entender melhor o que já sente)
 Esse é um perfil que eu reconheço quase de imediato em sala de aula. São pessoas que chegam pela intuição, não pela técnica. Muitas vezes já compõem, já escrevem letras, já inventam melodias, gravam ideias no celular, fazem bases, brincam com sons — mas sentem que falta algo. Falta nomear o que estão fazendo. Falta ampliar possibilidades. Falta entender melhor o instrumento e a música para expandir a própria criação.
Esse é um perfil que eu reconheço quase de imediato em sala de aula. São pessoas que chegam pela intuição, não pela técnica. Muitas vezes já compõem, já escrevem letras, já inventam melodias, gravam ideias no celular, fazem bases, brincam com sons — mas sentem que falta algo. Falta nomear o que estão fazendo. Falta ampliar possibilidades. Falta entender melhor o instrumento e a música para expandir a própria criação.
Diferente do aluno que começa pela execução, o compositor geralmente começa pelo impulso criativo. Ele já tem algo a dizer antes mesmo de dominar a ferramenta. E isso é muito significativo. A aula, nesse caso, não pode esmagar essa intuição com excesso de regra, porque ela é justamente o motor criativo da pessoa. Ao mesmo tempo, se tudo ficar só no intuitivo, a criação tende a se repetir. A pessoa começa a compor sempre do mesmo jeito, nas mesmas tonalidades, com os mesmos climas, porque não tem ferramentas para sair desse território.
O que esse perfil busca, no fundo, é liberdade criativa real. E liberdade, na música, não vem da ausência de conhecimento — vem do domínio dele. Quando o compositor entende melhor harmonia, forma, ritmo, arranjo, ele passa a ter mais escolhas. Ele não fica refém do acaso. Ele pode decidir conscientemente quebrar regras, repetir estruturas, criar tensões, resolver ou não resolver. Isso muda completamente o patamar da criação.
Pesquisas em psicologia da criatividade mostram que processos criativos não são puramente espontâneos nem puramente racionais. Eles envolvem a interação entre intuição, memória, repertório e conhecimento estruturado. Estudos sobre composição musical indicam que músicos criativos alternam constantemente entre momentos de exploração livre e momentos de avaliação consciente do material criado.
É exatamente esse equilíbrio que aparece no trabalho com compositores em aula.
Outro ponto importante é que muitos artistas chegam com uma relação emocional muito forte com a própria música. A criação é identidade. É expressão de sentimentos, histórias pessoais, visões de mundo. Isso torna o processo mais sensível. Diferente de um aluno que está “aprendendo uma habilidade”, o compositor muitas vezes sente que está expondo algo íntimo. O papel do professor, aqui, não é julgar, mas ajudar a organizar sem castrar.
Do ponto de vista neurológico, estudos sobre criação musical indicam envolvimento de redes cerebrais ligadas tanto à emoção quanto à cognição executiva, mostrando que compor música ativa áreas relacionadas à autoexpressão, tomada de decisão e memória autobiográfica.
Isso ajuda a entender por que, para esse perfil, aprender música nunca é apenas aprender música — é mexer com quem a pessoa é.
Na prática, eu observo três necessidades centrais nesse tipo de aluno:
-
Compreender o que já faz intuitivamente
Dar nome, estrutura e consciência ao próprio processo criativo. -
Ampliar repertório de ferramentas
Harmonia, forma, ritmo, arranjo, timbre — para criar mais e melhor. -
Preservar a identidade artística
Aprender sem perder a voz própria.
Quando esse trabalho é bem feito, algo muito bonito acontece: o compositor passa a criar com mais confiança e menos bloqueio. Ele entende por que certas ideias funcionam, por que outras travam, e começa a ter caminhos para sair do lugar comum. A música deixa de ser apenas um desabafo espontâneo e passa a ser também linguagem consciente, sem perder emoção.
Perfil 5 — Pais que colocam crianças (a música como formação complementar)
 Ao longo dos anos, esse é um dos perfis mais recorrentes — e também um dos mais reveladores sobre como a sociedade enxerga a música. Aqui, quem chega primeiro não é a criança, são os pais. Pais que entendem que educação não se resume à escola e que a formação de uma criança passa por múltiplas dimensões: intelectual, emocional, cultural, corporal e social. A música entra exatamente nesse lugar de formação complementar.
Ao longo dos anos, esse é um dos perfis mais recorrentes — e também um dos mais reveladores sobre como a sociedade enxerga a música. Aqui, quem chega primeiro não é a criança, são os pais. Pais que entendem que educação não se resume à escola e que a formação de uma criança passa por múltiplas dimensões: intelectual, emocional, cultural, corporal e social. A música entra exatamente nesse lugar de formação complementar.
Em geral, são famílias que já têm essa visão ampliada de educação. São pais que colocam os filhos para aprender línguas, praticar esportes, ter contato com teatro, artes visuais, cultura de modo geral. A música aparece como mais uma camada desse repertório formativo, não com a expectativa imediata de “formar um músico”, mas de formar uma pessoa mais inteira.
Nesses casos, a aula de música não pode ser pensada com a lógica do adulto em miniatura. A criança aprende de outro jeito, se relaciona com o instrumento de outro jeito, percebe o tempo, o erro e o acerto de forma diferente. O aprendizado precisa ser lúdico, corporal, afetivo. Música, para a criança, é movimento, brincadeira, descoberta. Quando isso é respeitado, o instrumento deixa de ser uma obrigação e vira um território de curiosidade.
Do ponto de vista do desenvolvimento infantil, há bastante literatura mostrando a relação entre educação musical e habilidades cognitivas e socioemocionais. Estudos associam o aprendizado musical na infância ao desenvolvimento de atenção, memória, coordenação motora fina e percepção auditiva, além de possíveis efeitos positivos na linguagem.
Mais importante do que qualquer dado isolado é entender que a música oferece um ambiente rico de estímulos, onde corpo, emoção e pensamento atuam juntos.
Mas existe também uma dimensão emocional profunda nesse perfil. A música funciona como um espaço onde a criança aprende a lidar com frustração, espera, repetição, erro e conquista. Aprender um instrumento ensina, de forma prática, que algumas coisas exigem tempo. Que nem tudo vem pronto. Que esforço não precisa ser violento para ser efetivo. Isso tem impacto direto na forma como a criança se percebe no mundo.
Eu costumo dizer que, nesse contexto, a aula de música não é apenas para a criança — ela também educa os pais. Porque é comum a ansiedade adulta querer resultados rápidos, apresentações, progresso visível. E a música infantil ensina outra lógica: processo antes de produto. Quando isso é compreendido, a experiência se torna muito mais saudável para todos os envolvidos.
Na prática, vejo três grandes funções da música para esse perfil:
-
Ampliação cultural e sensível
Contato com arte como linguagem humana, não apenas como técnica. -
Desenvolvimento emocional e corporal
Coordenação, escuta, expressão, autorregulação. -
Formação de relação saudável com o aprender
Aprender sem medo, sem punição, com curiosidade.
Mesmo que essa criança nunca se torne musicista, a música deixa marcas profundas. Ela cria memória afetiva, repertório cultural e uma relação positiva com a própria capacidade de aprender. E isso, para mim, já justifica completamente a presença da música como parte essencial da formação.
Perfil 6 — Idosos (o resgate, o prazer e a música como aliada do corpo e da mente)
 Esse é um perfil que sempre me toca de um jeito especial. São pessoas que chegam à música carregando história. Às vezes tocaram quando eram jovens e a vida interrompeu o caminho. Às vezes sempre quiseram aprender, mas nunca houve tempo, dinheiro, incentivo ou oportunidade. E aí, em algum momento da maturidade ou da velhice, a música reaparece como um resgate — não de algo perdido apenas, mas de algo que ainda pode florescer.
Esse é um perfil que sempre me toca de um jeito especial. São pessoas que chegam à música carregando história. Às vezes tocaram quando eram jovens e a vida interrompeu o caminho. Às vezes sempre quiseram aprender, mas nunca houve tempo, dinheiro, incentivo ou oportunidade. E aí, em algum momento da maturidade ou da velhice, a música reaparece como um resgate — não de algo perdido apenas, mas de algo que ainda pode florescer.
O que muda completamente aqui é o sentido da aula. O foco não está em performance, virtuosismo ou cobrança técnica. O foco está no prazer, na presença, no estímulo. A aula precisa ser um espaço confortável, humano, acolhedor. O idoso não pode se sentir examinado, comparado ou pressionado. Quando isso acontece, a música vira fonte de ansiedade — exatamente o oposto do que ela pode oferecer nessa fase da vida.
Na prática, as aulas para idosos tendem a ser mais conversadas, mais afetivas, com tempo para troca. Existe o aprendizado musical, claro, mas ele caminha junto com o bate-papo, com a memória, com a história de vida. E isso não é perda de tempo — isso é parte do processo. A música sempre esteve ligada à memória autobiográfica, às emoções e às experiências vividas, e isso fica ainda mais evidente na maturidade.
Do ponto de vista científico, há uma quantidade crescente de estudos mostrando a relação entre prática musical e envelhecimento saudável. Pesquisas indicam que aprender ou praticar música pode contribuir para estímulos importantes ligados à memória, atenção, coordenação motora fina e plasticidade cerebral em idosos. Revisões na área de neurociência sugerem que o engajamento musical pode estar associado à manutenção de funções cognitivas e à qualidade de vida ao longo do envelhecimento.
Outro aspecto fundamental é o emocional. A música mexe diretamente com afetos. Em idosos, isso costuma aparecer de forma muito clara: músicas evocam lembranças, histórias, sentimentos profundos. E isso tem um valor enorme. Há estudos que discutem como a música pode atuar como mediadora emocional, ajudando no humor, na sensação de pertencimento e no combate ao isolamento social, que é um dos grandes desafios dessa fase da vida.
Por isso, o caminho pedagógico aqui é sempre mais suave. Arranjos simplificados, repertório significativo, respeito ao ritmo individual. O objetivo não é “exigir”, mas estimular. Quando o idoso percebe que consegue tocar algo, mesmo simples, isso gera um efeito poderoso de autoestima e vitalidade. Ele se sente capaz, ativo, criativo — sensações que muitas vezes a sociedade vai retirando dessa faixa etária.
Na minha experiência, esse perfil costuma buscar três coisas principais:
-
Prazer e estímulo emocional
A música como alegria, memória e expressão. -
Ativação cognitiva e corporal
Coordenação, atenção, memória e movimento fino. -
Ambiente acolhedor e sem julgamento
Aprender sem pressão, com respeito ao tempo individual.
A música, nessa fase da vida, deixa de ser um projeto de futuro e passa a ser um companheiro de presente. Ela não cobra, não apressa, não compara. Ela acompanha. E isso faz toda a diferença.
Perfil 7 — Quem busca a música como atividade terapêutica (presença, regulação e cuidado)
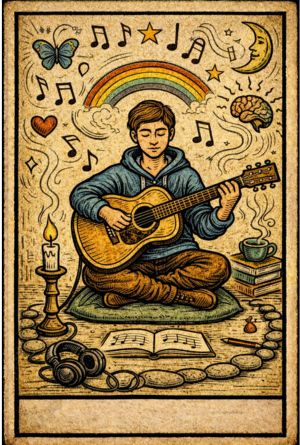 Esse é um perfil que aparece cada vez mais com o passar dos anos — e não por acaso. São adultos ou adolescentes que chegam à música não como lazer puro e simples, nem como profissão, mas como uma necessidade de cuidado. Às vezes vêm por indicação de psicólogo. Às vezes chegam por conta própria, depois de perceberem que algo não está bem: excesso de estresse, dificuldade de concentração, queda de memória, ansiedade constante, sensação de esgotamento. Em muitos casos, estamos falando de pessoas em burnout, ou de adolescentes com dificuldades de adaptação escolar, relacionamento e atenção.
Esse é um perfil que aparece cada vez mais com o passar dos anos — e não por acaso. São adultos ou adolescentes que chegam à música não como lazer puro e simples, nem como profissão, mas como uma necessidade de cuidado. Às vezes vêm por indicação de psicólogo. Às vezes chegam por conta própria, depois de perceberem que algo não está bem: excesso de estresse, dificuldade de concentração, queda de memória, ansiedade constante, sensação de esgotamento. Em muitos casos, estamos falando de pessoas em burnout, ou de adolescentes com dificuldades de adaptação escolar, relacionamento e atenção.
Aqui é muito importante deixar algo claro: isso não é musicoterapia. Musicoterapia é uma prática clínica, com objetivos terapêuticos definidos, conduzida por profissionais especializados. O que acontece nas aulas, nesses casos, é diferente — mas nem por isso menos significativo. A música entra como atividade terapêutica, no sentido amplo da palavra: uma prática regular que organiza o tempo, cria presença, estimula emoções e oferece um espaço seguro de expressão.
Muitos desses alunos chegam extremamente acelerados. O corpo está em um lugar, a cabeça em outro. A música exige algo raro hoje em dia: atenção sustentada. Para tocar, é preciso ouvir, coordenar, respirar, estar ali. Não dá para fazer música de verdade com metade da mente dispersa. E esse simples fato já gera um efeito regulador muito forte. Estudos em neurociência e psicologia mostram que atividades musicais envolvem redes cerebrais relacionadas à atenção, à regulação emocional e à integração sensório-motora, o que ajuda a explicar por que a música pode ter efeitos positivos sobre concentração e estados emocionais.
Em adolescentes, esse perfil costuma aparecer associado a dificuldades de expressão emocional. A música funciona como uma linguagem alternativa, menos verbal, menos confrontativa. O instrumento vira um mediador. Em vez de “falar sobre”, a pessoa faz. Toca, experimenta, cria, erra, acerta. Isso pode ser especialmente relevante para jovens que têm dificuldade em se expressar apenas pela fala. Pesquisas sobre artes e desenvolvimento emocional apontam que práticas artísticas podem favorecer autorregulação, autoestima e engajamento emocional, especialmente em contextos educativos e não clínicos.
Nos adultos, o cenário mais comum é o esgotamento. Pessoas que trabalharam demais, por tempo demais, e começam a sentir falhas de memória, dificuldade de foco, irritabilidade. A música entra como um ritual semanal de pausa. Um momento reservado, protegido, em que a pessoa não precisa produzir nada para ninguém. Ela só precisa estar ali. O simples fato de dedicar um tempo fixo da semana a uma atividade significativa já tem valor terapêutico por si só, como apontam estudos sobre rotinas estruturadas e saúde mental.
Outro ponto importante é o prazer. Diferente de outras atividades “prescritas”, a música costuma ser desejada. Há afeto envolvido. Isso aumenta a adesão. A pessoa volta. Mantém a prática. E isso faz toda a diferença quando falamos de benefícios ao longo do tempo. Revisões sobre música e estresse sugerem que práticas musicais podem estar associadas à redução de níveis percebidos de estresse e melhora do humor, especialmente quando a pessoa se engaja de forma voluntária e significativa.
Na prática, eu observo três funções centrais da música para esse perfil:
-
Presença e foco
A música como exercício de estar no aqui e agora. -
Regulação emocional
Contato com sentimentos sem a necessidade de verbalizar tudo. -
Cuidado sem rótulo clínico
Um espaço de bem-estar que não medicaliza a experiência.
Para muitas dessas pessoas, a aula se torna um ponto de ancoragem na semana. Algo que organiza o tempo, dá sentido e cria um respiro. Mesmo sem ser terapia, a música passa a cumprir um papel terapêutico real na vida delas. E isso reforça algo que eu vejo há décadas: a música não resolve tudo, mas ajuda muita coisa — quando encontra o lugar certo na vida de cada um.
Perfil 8 — Quem quer se tornar professor de música (formação, validação e troca)
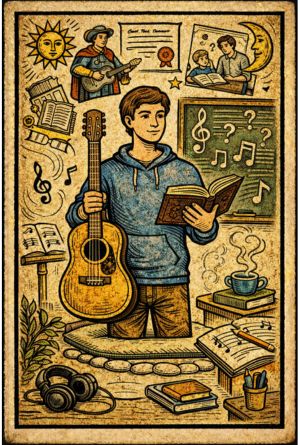 Esse é um perfil que aparece com certa frequência e que, de alguma forma, dialoga muito diretamente com a minha própria trajetória. São jovens — ou adultos jovens — que já estudaram música, já tocam bem, têm preparo técnico, às vezes já dão aulas informalmente, mas sentem a necessidade de algo mais sólido: segurança, validação e formação pedagógica. Não é alguém que chega para aprender do zero, é alguém que chega para aprender a ensinar.
Esse é um perfil que aparece com certa frequência e que, de alguma forma, dialoga muito diretamente com a minha própria trajetória. São jovens — ou adultos jovens — que já estudaram música, já tocam bem, têm preparo técnico, às vezes já dão aulas informalmente, mas sentem a necessidade de algo mais sólido: segurança, validação e formação pedagógica. Não é alguém que chega para aprender do zero, é alguém que chega para aprender a ensinar.
Essas pessoas geralmente procuram um professor mais experiente porque percebem que tocar bem não é a mesma coisa que dar aula bem. Saber executar não garante saber conduzir um processo de aprendizagem. Surge então a busca por didática, por clareza de percurso, por formas de explicar, adaptar conteúdos, lidar com diferentes perfis de alunos, idades, ritmos e objetivos. Muitas vezes a pergunta implícita não é “o que estudar?”, mas “como conduzir uma aula de verdade?”.
Eu tenho propriedade para falar disso porque minha formação passa tanto pelo estudo formal quanto pela prática intensa. Fiz a Universidade Livre de Música, com formação em violão popular, mas ao longo dos anos me aprofundei de forma muito consistente no blues — tanto na guitarra blues quanto no blues como gênero, linguagem e contexto histórico-cultural. A história da música é um campo que eu pesquiso continuamente, porque entender de onde a música vem ajuda muito a entender como ela funciona e por que ela soa do jeito que soa.
Mais do que títulos ou formações específicas, o que construiu essa experiência foi o tempo em sala de aula. São mais de 30 anos dando aula, atendendo um público extremamente diverso: crianças, adolescentes, adultos, idosos; iniciantes e avançados; pessoas de diferentes classes sociais, contextos culturais, objetivos pessoais e profissionais. Isso obriga o professor a desenvolver algo que não se aprende em método nenhum: escuta pedagógica. Entender quem está na sua frente antes de decidir o que ensinar.
Quando alguém que quer se tornar professor me procura, normalmente está buscando três coisas:
-
Validação de conhecimento
Confirmar se o que já sabe faz sentido, está bem organizado e pode ser transmitido. -
Ferramentas didáticas reais
Como explicar, como sequenciar conteúdos, como adaptar a aula ao aluno e não o contrário. -
Referência de postura profissional
Como conduzir aula, lidar com expectativas, inseguranças, limites e responsabilidades do papel de professor.
Mas existe algo ainda mais profundo nesse perfil, e que eu considero central: a disposição para aprender. A principal lição de quem escolhe ser professor é entender que nunca se para de aprender. Quem tem a mente aberta, quem aprende com alunos de qualquer nível, com colegas, com iniciantes e com pessoas mais jovens, desenvolve uma relação viva com o conhecimento. E isso faz toda a diferença. A paixão pelo aprendizado é o que permite transferir conhecimento de forma clara, generosa e eficaz.
Na minha experiência, os melhores professores não são os que “sabem tudo”, mas os que estão sempre aprendendo. Porque quem aprende o tempo todo entende melhor as dúvidas, os bloqueios, os medos e os caminhos do outro. E isso cria um ambiente de troca real, onde ensinar e aprender deixam de ser papéis fixos e passam a ser partes do mesmo processo.
